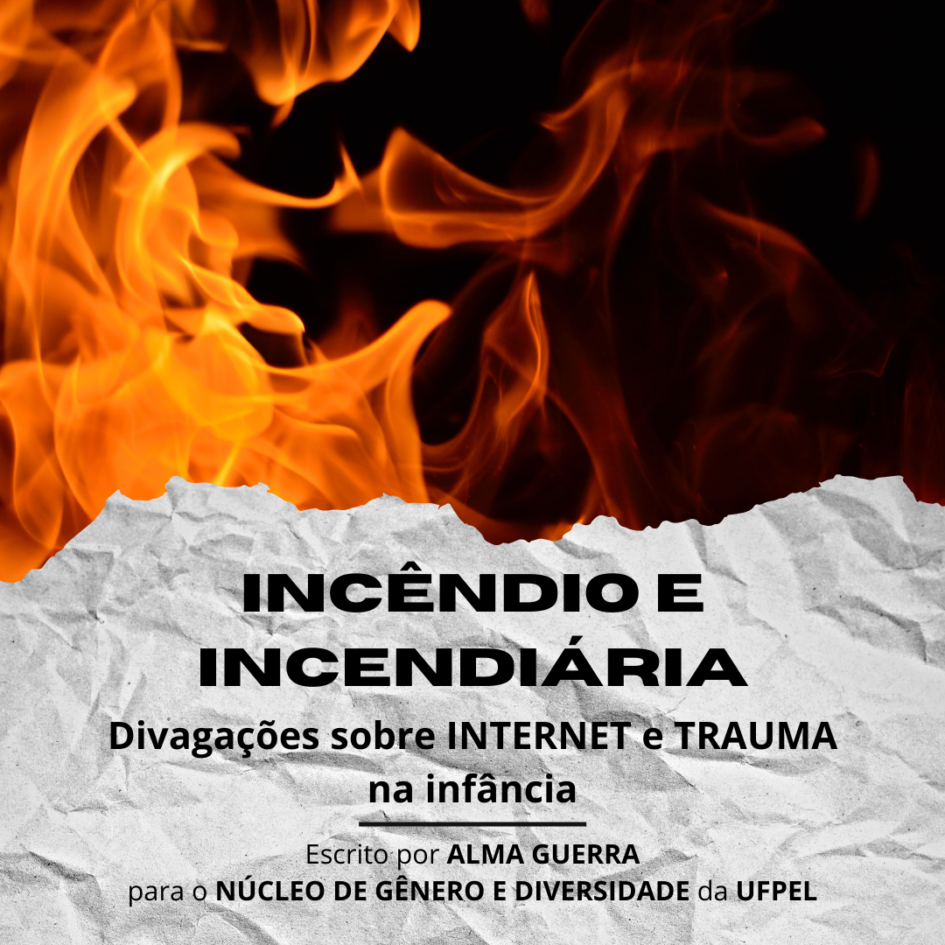Escrito por ALMA GUERRA
Para o NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE (NUGEN) da UFPEL
É noite.
Ligo meu notebook, sentada na cama, como sempre faço.
Abro meu navegador. Entro no Pinterest para ver imagens bonitas, memes bobos e dicas para projetos artísticos, algo que também faço bastante, nesse caso um pouco mais do que gostaria.
Doomscrolling. Hiperinformação. Alienação mental.
Garantia de serotonina quase instantânea pra uma adolescente que está cada vez mais próxima daquela esquina que se cruza aos dezenove anos de idade, aquela na qual nos espera a vida adulta, esta já pronta com suas armas e ferramentas de ora moldar indivíduos para um mundo mecanizado à favor do exercício de maximizar lucro pra classe burguesa, ora de moer e devorar todo indivíduo que tiver a audácia de desafiar as normas impostas por tal elite. Quando se cruza essa esquina, diz-se que normalmente não se volta mais. A infância e adolescência se tornam memórias, meros fragmentos de um passado cada vez mais distante, que não vai mais voltar senão no mundo intangível e sem limites da nossa consciência.
Olhando para a tela do computador, já sinto o pesar do sono no meu corpo. Mas sigo descendo a timeline. Entre diferentes imagens que observo nesse espaço virtual cuja função é agregar mídias visuais de outros websites, para assim, de maneira padronizada e algorítmica, me manter acessando seu domínio, muito provavelmente em benefício do lucro de acionistas ao redor do planeta, uma imagem, ou melhor, um print de uma postagem de outra rede social chama minha atenção.
Nessa postagem, alguém que desconheço colocou em simples palavras um saber que há muito eu precisava ter noção sobre. Não lembro com exatidão o texto na íntegra, mas basta, aqui, citar a frase que define o ponto central do que é dito: “Não se pode curar um trauma que ainda está acontecendo.”
Muito se fala e teoriza dos diferentes aspectos e recortes que modelam a juventude enquanto experiência no mundo de hoje, compondo um diálogo que busca compreender como ela – a infância e adolescência que ocorreu nos anos 2010 e ocorre na década atual – difere da infância de quem cresceu nas décadas anteriores. Estes diálogos seguem em um estado incessante de construção na medida em que os nascidos entre o final dos anos noventa até meados dos anos 2000 tomam em suas mãos os mais diferentes meios e modos de abordar sua história, suas vivências e as preocupações de sua era.
Partindo da minha perspectiva, busco utilizar deste artigo para retratar certas partes pouco elaboradas, pelo menos por grandes espaços midiáticos, da experiência de minha geração com a internet, que acaba por se tornar, mais e mais, um espaço familiar ao nosso imaginário, individual ou coletivo, desde os primeiros anos de vida.
Saliento, antes de tudo, que não posso falar por ninguém além de mim mesma, e que tudo aqui remete não a algum tipo de conceito de universalidade, mas sim à minha própria experiência enquanto travesti, enquanto pessoa branca, enquanto alguém que nasceu em 2003 e cresceu no meio artístico, morando na periferia de uma cidade do Rio Grande do Sul.
Existem diferentes maneiras de imaginar o trauma de uma criança como algo material, tangível, que podemos ver, tocar, cheirar, sentir e contemplar, associando as dores de uma ou de múltiplas experiências traumáticas à algo que existe no mundo físico em que existimos. Podemos dizer que o trauma é como uma facada, que penetra nosso tecido humano e cria uma hemorragia, criando-se numerosas opções de como lidar com o ferimento. Se formos destacar as opções mais lógicas, obviamente são apenas duas: podemos deixar a faca onde ela está, mantendo nosso sangue (e a hemorragia) no lado de dentro, ou podemos simplesmente arrancá-la, deixá-la sangrar e buscar tratar o vazamento de acordo com a necessidade daquele corte desferido em nossa carne. Independente de qual dessas duas opções você escolher, sempre existirão consequências. O fio e o restante da estrutura metálica de uma faca pode até segurar o sangue dentro de você e evitar que ele bagunce e manche de vermelho o que está em sua volta, mas é difícil negar que apenas ao retirarmos cada centímetro desse objeto cortante do nosso corpo poderemos sanar essa ferida de modo eficaz. O que complica a história é que, nessa alegoria metafísica, a faca não está cravada em nosso corpo, atravessando nossos nervos e fazendo incisões em nosso tecido muscular por segundos ou minutos. Geralmente ela fica ali por anos de uma vida, ao ponto em que ela se torna uma parte de nós, um novo membro do nosso sistema, com suas sensibilidades, seus tiques e suas próprias sensações.
No meu caso, eu elaboraria minhas experiências traumáticas como algo diferente. Pra mim, o que se instalou em minha mente, no meu psicológico e imaginário é como um incêndio. Um algoz que fere, se alastra expansivamente e destrói aquilo que toca. Um problema que quanto maior fica, mais difícil se torna sua solução. Nisso, demorou anos pra eu ter a noção e a possibilidade de reconhecer que, mesmo parecendo que eu fosse, eu jamais fui a incendiária responsável por toda essa dor que me levou, de fato, a extremos muito perigosos.
Quando eu tinha nove anos de idade, começamos a ter conexão de internet em minha casa. Foi um momento marcante da minha infância, que em poucos anos se tornaria pré-adolescência. Finalmente, eu poderia assistir vídeos no Youtube, criar uma conta no Facebook e acessar websites com jogos no formato Adobe Flash Player, tudo isso sem me deslocar até uma Lan House!
Dentro do próximo ano, as coisas ficaram estranhas. Possuir uma conta no Facebook em seu famigerado apogeu (lá por 2013), tendo apenas dez anos de idade faz coisas com sua forma de perceber o mundo e de assimilar o que lhe rodeia. Começo a ficar curiosa sobre meu corpo. Começo a ficar curiosa sobre o corpo de outras pessoas.
A configuração de sociedade ocidental na qual vivemos propicia modelos de mídia e cultura mainstream que abordam sexo cisheteronormativo de maneira muitas vezes gratuita, mas deixa toda responsabilidade da educação sexual de crianças e adolescentes para seus responsáveis, que por uma gama de razões podem acabar negligenciando esse enorme e importante aspecto da vida humana.
Uma das minhas maiores curiosidades era sobre como o sexo acontecia, qual era o formato de uma vulva, e obviamente, o que diabos significava essa palavra esquisita, esse tal de orgasmo.
Eu não tinha ideia de que era possível perguntar para os meus pais sobre essas coisas, por causa de possíveis constrangimentos e humilhações que poderiam acontecer. E estudando na rede pública, levar essas questões para a escola não passava nem perto da minha cabeça.
Então comecei a pesquisar fotos de mulheres nuas no Google Imagens.
Em pouco tempo, descobri a masturbação, e em consequência, o orgasmo. Dois anos depois, aos mais ou menos doze anos de idade, eu já estava acostumada com o ritual e me masturbava quase diariamente. Muitas vezes, mesmo sem sequer tendo vontade, e em muitas outras me sentindo confusa e entristecida após a prática.
Eu não entendia minhas emoções, não entendia quem eu era, o que queria, e muito menos meus próprios limites. Desde muito cedo na infância já mostrava sinais de depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, estes ignorados pelos meus pais e pela minha família em geral, e lembro nitidamente de experienciar ideações suicidas desde os oito anos de idade. Obviamente, eu não estava pronta, em hipótese alguma, para vislumbrar e acessar um mundo de conteúdos gráficos de sexo, a grande maioria produzidos por uma indústria pornográfica capitalista, misógina, racista e LGBTfóbica que explora e abusa dos corpos de pessoas reais e que acumula seu lucro proliferando os ideais de uma cultura de estupro que é fortemente alicerçada no estigma atrelado à educação sexual democrática e na falta de pensamento crítico relacionado à maneira de como sistemas de opressão se perpetuam utilizando do corpo socialmente marginalizado como objeto de fetiche.
E como eu não tinha uma noção concreta do significado material que embasava as coisas que eu facilmente acessava com três a cinco cliques de mouse, entre os dez e treze anos de idade me tornei suscetível à ser exposta ao que mais me traumatizou: pornografia infantil. Não existem muitas palavras que possa usar para descrever os impactos que isso teve sobre minha concepção de sexo no início da minha adolescência, pois talvez essas palavras sequer existam.
O que possibilitou esse trauma foi, em meio a todos esses elementos e fatores, a falta de supervisão sobre os conteúdos que eu navegava online por parte de meus pais somada com a falta absoluta que se cria num país em que educação sexual nas escolas de rede pública é tratada como uma atrocidade pelos representantes conservadores do meio político. Nisso, a porta de entrada a esses conteúdos se tornou fácil, afinal ela jamais esteve trancada.
Aos quatorze e quinze anos passei a ter contato com diferentes espaços virtuais, diferentes filmes e livros, diferentes correntes de pensamento, muitas vezes de cerne esquerdista criados por pessoas LGBTQIA+ e por comunidades antirracistas pautadas na luta de classes, e meus olhos foram se abrindo dia após dia. Eu finalmente tinha noção de que tive contato com coisas terríveis, que me machucaram profundamente; finalmente pude abordar isso na terapia, consultando no CAPSi, mas um novo estágio se aprochegou, que foi o de me entender como alguém que foi exposta a conteúdos criminosos em uma situação de falta de supervisão, não alguém que se expôs a esses conteúdos. Por muito tempo, senti culpa. Mas mais do que isso, senti medo de me descobrir uma pessoa que praticaria essas violências contra outras pessoas, especialmente crianças.
Há um ano atrás, aos dezoito anos de idade, já me sentia mais tranquila, em específico pelo conhecimento que obtive no exercício de conhecer a mim mesma e de definir meus limites de forma mais honesta. Não cogito a possibilidade de machucar outras pessoas. Não cogito a possibilidade de ferir crianças.
De fato, é importante afirmar aqui que recentemente tive a compreensão de que eu jamais cogitei cometer tamanhas atrocidades contra qualquer outro indivíduo, e que o que me consumia estava muito mais ligado ao medo, às inseguranças e aos estigmas de experienciar um trauma tão cru num país que se importa tão pouco com estratégias para educar crianças sobre seus corpos e sobre os diferentes aspectos que dizem respeito à temática da sexualidade, para assim prevenir violências e abusos que possam sofrer, sem mencionar doenças que possam contrair ou a possibilidade de uma gravidez indesejada, algo que nos leva a outro assunto de enorme complexidade e que também sequer é debatido, novamente por causa de uma violenta representação política que rejeita pautas projetadas pelo feminismo, como direitos reprodutivos e a possibilidade do aborto acessível e seguro.
Hoje em dia, não posso dizer que superei esse trauma. Arrisco dizer que ele ainda acontece, de uma forma diferente, enquanto vivo outro estágio na minha busca por me conhecer e aprender como viver com possíveis sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) que, suspeito fortemente, assim como profissionais de saúde mental que me atenderam recentemente, ter em certas ocasiões. A diferença é que, hoje em dia, já distante do consumo desses conteúdos, minhas inseguranças residem na necessidade de falar sobre o que aconteceu comigo, não apenas pelo bem da minha saúde mental e pela possibilidade de saber lidar com esses sintomas de TEPT de forma mais eficaz, mas também pela potência que percebo na ideia de, ao longo de minha trajetória, contribuir na conscientização da necessidade da educação sexual que não tive quando era pequena, algo que facilmente entra em choque com a falta de espaço reservado à narrativas complexas de trauma infantil ligadas às tecnologias modernas.
Grande parte desse medo vem do fato de eu ser uma travesti. Meu processo de transição, em minha opinião, ocorreu desde muito cedo na minha maneira de ver o mundo e questionar o que me foi imposto desde criança. No entanto, só tive oportunidades de explorar minha expressão de gênero de forma satisfatória nos últimos três anos, desde meus dezesseis, após muitos anos de pesquisa, de lágrimas e sorrisos ao me ver no espelho e de conhecer pessoas como eu, e ver que existimos há eras, em todo o planeta.
Infelizmente, a realidade no nosso país é que a nossa mera existência é estigmatizada e demonizada aos extremos, e que se torna cada vez mais fácil observar ao redor do mundo um projeto político por parte do patriarcado cisheteronormativo de estabelecer e fincar, no imaginário coletivo, a ideia de que nós somos pessoas intrinsecamente violentas, abusivas e que representam um perigo, muitas vezes associado ao estupro, à mulheres cisgênero e crianças em geral.
Se olharmos de perto, é curioso observar o quanto a percepção estigmatizada sobre sexo é contraditória, e como os impactos dessas contradições tem consequências reais e às vezes fatais na nossa vida e psique. Os mesmos grupos que dedicam suas práticas políticas à manutenção do sexo como tabu e que inviabilizam qualquer probabilidade de crianças e adolescentes receberem a educação necessária para estarem conscientes de conceitos como sexo, consentimento, orientação sexual, identidade de gênero, etc., negligenciam as diferentes camadas dessa temática, como o fato óbvio de que se uma criança não aprende algo tão implantado na nossa sociedade e no regime capitalista de corpo, reprodução e trabalho pelos meios certos, muito provavelmente vai aprender sobre tais coisas pelos meios mais tortos e problemáticos que o espaço cibernético poderá disponibilizar. Simultaneamente, o diálogo acerca da existência LGBTQIA+ é brutal em seu tratamento com diferentes comunidades que estão sob nossos “termos guarda-chuva”, e não contemplam a complexidade dos nossos traumas, sejam eles de natureza individual ou coletiva. A disputa entre diferentes narrativas acerca de quem somos, o que sentimos e o que é aquilo que desejamos enquanto pessoas transgênero machuca quem sofre de um trauma tão raramente abordado. Afinal, como podemos não só imaginar, mas também perceber, em diferentes sentidos, a construção de um futuro melhor para nós mesmas se estamos constantemente enfrentando a ideia de que existe algo de intrinsecamente errado conosco?
Ofereço mais questionamentos. Quem fala de travestis que, como eu, foram expostas a esse tipo de violência? Ou que, diferente de mim, sofreram na pele a realidade do abuso sexual, algo constantemente relatado na nossa comunidade, especialmente entre as que foram submetidas à prostituição após serem expulsas de sua casa em sua infância ou adolescência?
Quem fala de travestis feridas psicologicamente pelo imaginário coletivo que nos relega à posição predestinada de ser, ou uma vítima fatal da violência cisheteropatriarcal, ou uma abusadora em potencial na imaginação cisgênera?
O que sobra pra nós, afinal?
Em conversas com pessoas da minha idade que tive ao longo dos anos, nas quais me senti segura o suficiente para compartilhar minhas experiências mais traumáticas, passei a perceber que não estou, de maneira alguma, sozinha. Conheço mulheres e homens na minha faixa de idade que também cresceram no meio cibernético e foram expostos a conteúdos criminosos, e que, assim como eu, tem muito a dizer sobre como isso fere e distorce nossa noção coletiva sobre aspectos da vida que não aprendemos nada sobre na escola ou em casa.
Neste momento, não sei com certeza absoluta qual é o próximo passo, além de viver um dia de cada vez, fazer terapia e procurar me compreender enquanto um ser humano que passou por eventos traumáticos que, em geral, não são tão abordados – provavelmente em decorrência da nossa compreensão sobre a internet, e como ela molda experiências e sequelas para pessoas de diferentes idades e recortes sociais, estar andando à passos curtos, num mundo que se torna, cada vez mais, excessivamente veloz.
Mas o que posso dizer é que, após tudo que vivi, eu acredito nas potências expressadas pela possibilidade de educar a juventude sobre assuntos que são socialmente estigmatizados ao mesmo tempo que naturalizados nas diferentes camadas da sociedade. Acredito na ideia de um mundo onde crianças não precisem passar pelo que eu passei.
Acredito que é possível nosso imaginário coletivo reservar amor, afeto e acolhimento para travestis e pessoas trans que sofrem de diferentes traumas em sua vida, e não o oposto.
Em suma, eu acredito no ideal de que autonomia, no seu estágio mais fundamental, que creio ser o de ter a oportunidade de se conhecer e de aprender de maneira moderada, segura e saudável sobre o mundo à sua volta e como ele funciona, não é algo que deva ser conquistado através do sofrimento ou do acaso, mas sim um direito garantido a todos.